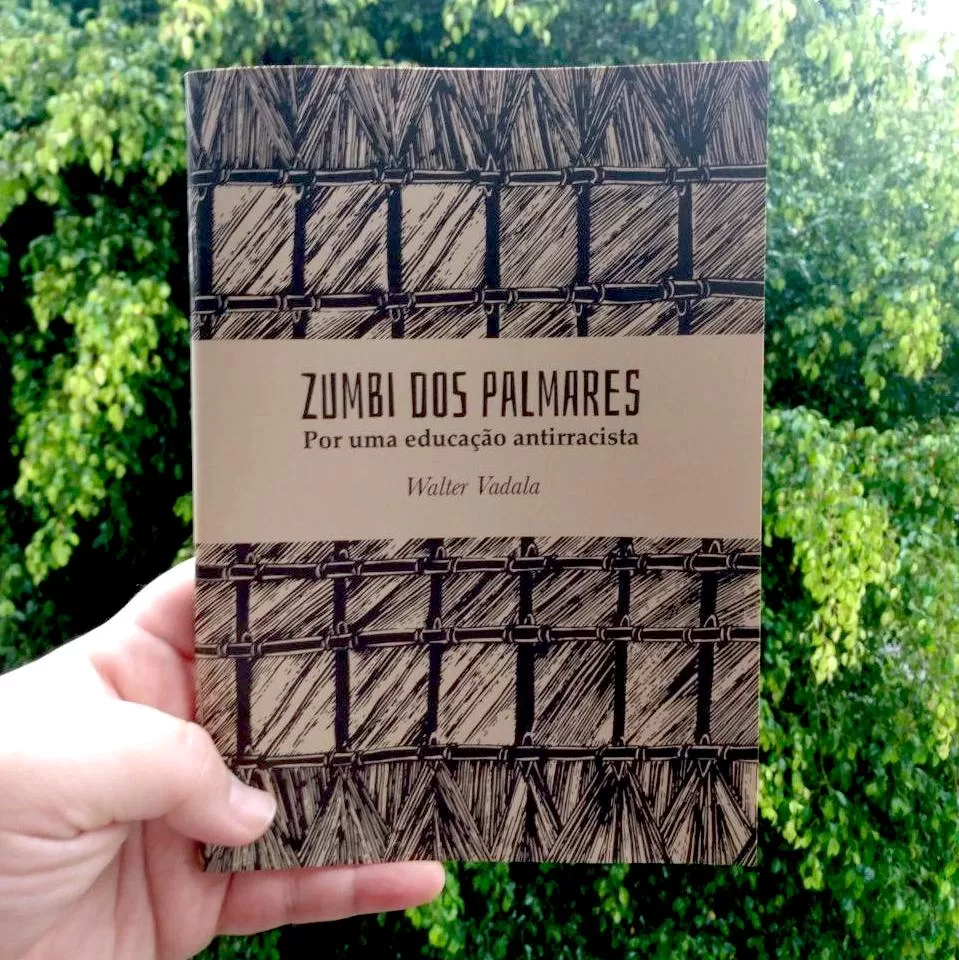Cuestiones de Sociología1 reuniu quatro intelectuais e acadêmicas latino-americanos para responder a questões sobre o âmbito da dependência intelectual e os dilemas que a teoria social latino-americana enfrenta. Silvia Rivera Cusicanqui da Bolívia; Jose Mauricio Domingues do Brasil; Arturo Escobar da Colômbia e Enrique Leff do México. Publicamos aqui a entrevista com Silvia.
Maristella: Muitos autores têm insistido que uma das características fundamentais da teoria social latino-americana é a sua dependência intelectual ou epistêmica dos conceitos e quadros teóricos desenvolvidos nos países centrais. Alguns deram um estatuto teórico a esta dependência através do conceito de “colonialidade do conhecimento” (Quijano, Lander). Como encara este problema? O que significa, então, pensar nas ciências sociais da América Latina no século XXI, no quadro da modernidade avançada e do atual sistema de dominação? Existe uma perspectiva latino-americana para pensar os problemas atuais a partir de uma perspectiva da teoria social?
Silvia: Essa formulação não é nada nova, e se por “estatuto teórico” se refere à instalação desta ideia nos centros acadêmicos hegemônicos, poderia te dizer que se trata de uma academia muito sem memória. Em vários territórios da América Latina, e também nos Andes bolivianos, a crítica à colonização mental das elites tem uma longa história. No nosso caso, com Rossana Barragán tentamos uma síntese desta genealogia no livro que publicamos em La Paz sobre os estudos da subalternidade na Índia.2 Na apresentação do texto entrelaçamos a nossa leitura do grupo Estudos Subalternos com uma reflexão sobre as contribuições da historiografia social argentina, a etno-história e antropologia peruanas, e a contribuição vital mexicana e africana (1997) para a produção social e historiográfica boliviana dos anos 80 e 90.
Recentemente, tracei esta genealogia própria até o início do período colonial na obra do escritor Chinchaysuyu Waman Puma (Rivera, 2015). Creio que o seu trabalho, através da montagem da imagem-texto, é um ensaio visual teórico. Em outras palavras, Waman Puma compõe uma sintaxe para expor a sua teoria de domínio colonial, tanto como uma descrição etnograficamente densa como uma crítica teórica irrefutável da ilegitimidade desse sistema e das suas falácias.
Gostaria de apresentar brevemente um exemplo que pertence ao horizonte liberal do colonialismo (1870–1920). Um livro de Franz Tamayo (1879–1956) aborda de forma autocrítica a mestiçagem boliviana como uma síndrome de cruzamento psicológico, que ele chama bovarysmo, fazendo alusão ao romance de Flaubert, Madame Bovary. Esta noção me servirá de metáfora para compreender o bloqueio que nos impede de sermos memoráveis com a nossa própria herança intelectual, uma vez que é paradoxal e lamentável que tenhamos de legitimar as nossas próprias ideias recorrendo a autores que tornaram os assuntos do colonialismo em moda, ignorando ou menosprezando obras teóricas anteriores, que, embora não utilizassem as mesmas palavras, interpretaram e questionaram a experiência do colonialismo intelectual com profundidade e precisão. Em Creación de la pedagogía nacional3 , a autora chamou de bovarystas aos “intelectuais de gabinete” que trouxeram programas educacionais franceses para instalar e imitar no país uma pedagogia elitista e moderna apenas na aparência. Do seu lugar de poeta de prestígio (embora obscuro e mal compreendido), o seu rigor argumentativo e o seu gesto controverso provocaram um questionamento radical das práticas e estilos de ser daquela intelligentsia crioula4 que o rodeava, admirava e desprezava.
Ao contrário do que acontece hoje, quando tudo é escrito e falado, e os círculos hegemônicos dos alfabetizados criam satrapias5 políticas (o parlamento, o poder judicial) ou espetáculos midiáticos para nos enganar; no tempo de Franz Tamayo o foco era uma cultura oral gestual que se traduzia em códigos corporais não ditos mas socialmente inteligíveis: códigos de comunicação que também estruturaram hierarquias e desprezos dissimulados. Tamayo não contesta o que os seus contemporâneos escreveram: considerou-o uma aglomeração vulgar de citações de autores europeus, nem sequer foram bem traduzidas. Mas não foi por ter rejeitado a herança da Europa – a sua poesia em formato grego é testemunho disso – mas por ter reivindicado a um gesto mais autônomo e inteligente em relação a ela; como faria Veena Das6 um século mais tarde. Tamayo foi também inspirado por Nietzsche e pelo vitalismo alemão do seu tempo, bem como por uma vasta biblioteca filosófica e literária francesa, o que de forma alguma prejudica a sua abordagem das realidades multiétnicas (como diríamos hoje) do seu ambiente. Foi o seu gesto corporal e o seu olhar, assim como o seu conhecimento reflexivo do Aymara, que o diferenciou dos seus contemporâneos.
O que Tamayo rejeita não são as ideias e princípios básicos da episteme europeia, mas a forma como são adotados em países como o nosso: no boca a boca, de uma forma submissa e reverencial. A sua análise, pelo contrário, baseia-se no escrutínio da alma do mestiço que realmente existe no seu espaço/tempo, como um ser esquizofrênico, dividido e bipolar, incapaz de criar uma nação própria ou de habitar um território próprio. Este diagnóstico é vital em Tamayo e lança as bases para fazer do double bind7 mestiço um poder criativo, em vez de aprofundar o binarismo e com ele a disjunção colonial que nos impede de sermos nós próprios.
A genealogia que estou tentando traçar do colonialismo na cultura literária boliviana está, pela mesma razão, ligada às urgências do presente. Quão pertinente é Tamayo lido desde o aqui e o agora. Ele define o bovarysmo como um estado de “insatisfação inovadora” que se move num “contexto de repressão e convenção social”. Não é isso que está acontecendo com os recentes escândalos envolvendo Evo Morales8 , que a imprensa internacional está “apimentando” à sua maneira? Não é a sociedade boliviana descarregando a sua própria culpa e dor familiar, privada e até inconsciente, fazendo da vida de Evo Morales uma causa de diatribe moral e sexual? Faz, mas não percebe que o primeiro a ser julgado e apontado deveria ser o índio dentro de nós.
Fausto Reinaga, nos anos 1960-1990, elaborou sobre as críticas à “intelligentsia da cholaje boliviana”, um agudo raio-x do colonialismo intelectual na Bolívia, o que lhe valeu o estigma de ser um personagem intratável e ultrarradical. Não é um fato menor que tenha sido Reinaga – e não Sartre ou Balandier – quem introduziu a obra de Frantz Fanon e outros autores da descolonização africana no debate político boliviano dos anos 70. Com honrosas exceções, os autores agora “descoloniais/decoloniais” ou “pós-coloniais” não conseguem escrutinar o ethos do intelectual colonizado tão profundamente como Reinaga, e isto revela-se nos próprios caminhos que temos vindo a seguir para compreender os processos de libertação da Índia e as lutas de descolonização no nosso continente.
Maristella: O que significa, então, pensar nas ciências sociais da América Latina no século XXI, no quadro da modernidade avançada e do atual sistema de dominação?
Silvia: Creio que outra ciência social deve ser feita, uma ciência que não divorcie o cérebro do corpo, a ética da política, o fazer de pensar. A ciência social realmente existente não difere muito daquela que Tamayo criticou. E as obras de Reinaga abundam em conceitos/metáforas em cuja bricolagem vislumbro outro tipo de teoria sobre o colonialismo intelectual na América Latina e sobre o colonialismo em geral. Por outro lado, a modernidade que Tamayo experimentou não é muito diferente da de hoje: continua a ser uma estrutura de pilhagem e colonização mental. Com um fator agravante: nas primeiras décadas do século XX havia muito mais pessoas urbanas, mestiças e de elite em La Paz, que falavam Aymara perfeitamente, enquanto hoje a dimensão simbólica do índio se tornou pigmentada e baseada em simulacros, o que nos mostra que estamos perdendo a batalha linguística. No que diz respeito à colonização mental, as ciências sociais – junto a várias outras – deveriam concentrar-se na criação de ferramentas conceituais, técnicas e materiais para resistir à pilhagem tanto de recursos materiais como de pessoas (mãos, cérebros) ou, pelo menos, para nos ajudar a sobreviver a ela.
Para além da pilhagem, esta modernidade imposta baseia-se na cultura do direito. A ciência social hegemônica tem de lidar com um fosso muito profundo entre a lei e a sua prática, entre a teoria e a violação da teoria. Colocar-se estritamente num dos polos deste binário é uma atitude de suicídio coletivo, que é transferida para todo o pensamento público. Face a este estado de confusão, o que a ciência social deveria estar fazendo era revolucionar a episteme. Criar um campo de jogo entre o patrimônio europeu e o nosso próprio patrimônio, no qual possamos, com autonomia, recriar um pensamento e um gesto capaz de ultrapassar o “double bind” ou a esquizofrenia colonial de que Tamayo falou. E isto deve ser feito por qualquer meio, não só nas ciências sociais mas também na matemática, agronomia, engenharia e na multiplicidade de disciplinas que são necessárias para o presente e agora da humanidade e do planeta, não só da ciência.
Acima de tudo, a nova ciência social deveria abandonar a camisa de força da sociedade, deixar de se limitar às coisas humanas, relações e conflitos sociais, e tornar-se mais uma das ciências da vida. É por isso que me sinto muito insatisfeita com as ciências sociais existentes, considero-as como satrapias. Esclareço que tenho o luxo de dizer isto porque agora estou livre da universidade, eu me aposentei e com várias amigas e colegas criamos um espaço9 no qual patrocinamos um “curso livre” no Verão e no Inverno, entre muitas outras atividades. A geração mais jovem de intelectuais e acadêmicos que trabalham na universidade tem de lidar com coisas mais danosas e vastas, como as revistas indexadas – que tive a sorte de não conhecer – ou a excessiva carga administrativa imposta às universidades pelo neoliberalismo.
Mas entrar e sair da academia não é o mesmo que dizer entrar e sair da modernidade. O que entendo como o principal desafio é ser autenticamente moderno e, ao mesmo tempo, conectar com o mais antigo, para que, a partir desta contradição ou anacronismo, possamos conspirar – dentro e fora da universidade – uma esfera pública inclusiva, democrática e intercultural (para dizer em termos convencionais). Para mim é central reconhecer que a teoria não é suficiente, as ciências sociais não são suficientes, a universidade e a academia não são suficientes para compreender o mundo em que vivemos hoje. E acredito que, ao longo de Abya Yala, este processo de “entrar e sair da academia” está permitindo a renovação do pensamento e a sua melhor articulação com as práticas comunitárias, populares e coletivas. Na fronteira entre o mundo universitário e o seu exterior, iniciativas como a que acabo de descrever estão proliferando, e eu as vejo em vários países do nosso continente.
Maristella: Existe uma perspectiva latino-americana para pensar nos problemas atuais a partir da teoria social?
Silvia: Não. Pelo menos não dentro desse ponto, como parece estar definido na sua primeira pergunta. Uma teoria/prática social descolonizante é um processo contínuo, mas a sua verbalização ainda tem de ser construída; ainda está a gaguejar e dispersa. Não é sequer claro qual será o formato deste discurso, num contexto de proliferação e democratização das comunicações por satélite. Creio que o que é feito nas redes, ou no teatro, ou na arte latino-americana, é muito mais sensível do que a universidade ou academia paraestatal, em termos conceituais, face às realidades multifacetadas do espaço social em que vivemos.
Novos espaços para a produção de teoria/prática social surgiram também: espaços marginais e fronteiriços, mas, ao mesmo tempo, proliferando. Iniciativas de rua, lutas contra a impunidade, plataformas em torno dos direitos sexuais e uma diversidade de iniciativas práticas em defesa do meio ambiente constituem cenários ideais para uma “pesquisa atuante” ou “pesquisa militante” para além da utilidade, para as comunidades e organizações de base. Refiro-me também a intelectuais – tais como Silvia Federici, Rita Segato, Margara Millan, Veronica Gago, Suely Rolnik e a mim mesma – que dialogam em vários níveis de abstração com intelectuais de base nos seus respectivos espaços ou países. Todas estas redes são a coisa mais próxima de uma “ecologia do conhecimento” que tenho podido observar. Mas com um adendo: é também “ecologia de sabores”, e refiro-me às redes de autonomia alimentar, projetos ambientais, etc., que pensam os problemas não só através da pesquisa acadêmica e da publicação dos seus trabalhos, mas também através da participação intensa em feiras, espaços alimentares conscientes, cooperativas alimentares e muitas outras atividades.
Não tenho acesso suficiente a tudo o que se passa nas universidades e centros de pesquisa de vários países do continente para poder ponderar os avanços teóricos que estes novos fenômenos trouxeram, mas posso dizer a vocês que nos últimos anos li com maior interesse do que antes os debates latino-americanos nas ciências sociais e humanas, e fico feliz com o fato de muitos deles estarem a partir de uma tangente ou descartando abertamente o antropocentrismo dominante – e o seu descendente, o eurocentrismo.
Por Maristella Svampa
Publicado em Iberoamérica Social: Revista-red de estudios sociales.
Tradução de Fernando Rios
Revisão e versionamento: Baderna James
- Nota da edição: CUSICANQUI, Rivera. Domingues; Escobar, y Leff, (2016). Debate sobre el colonialismo intelectual y los dilemas de la teoría social latinoamericana. Cuestiones de Sociología, v. 14, p. e009. [↩]
- Nota da edição: RIVERA CUSICANQUI, Silvia; BARRAGÁN, Rossana. Debates Post Coloniales: Una introducción a los estudios de la subalternidad. Historias, SEPHIS y Aruwiyiri, La Paz, 1997. [↩]
- Nota da edição: TAMAYO, Franz. Creación de la pedagogía nacional. Linkgua, 2019. [↩]
- Nota da edição: Por intelligentsia crioula, se compreende uma vanguarda intelectual crioula [↩]
- Nota da edição: Pessoa que sabe governar ou mandar com astúcia e inteligência, geralmente abusando de seu poder. [↩]
- Nota da edição: VEENA DAS é professora da cadeira Krieger-Eisenhower de antropologia, professora de humanidades da Johns Hopkins University e membro fundador do Institute of Socio-Economic Research in Development and Democracy. Entre seus livros, está Violence and Subjectivity [Violência e Subjetividade], que coeditou com Arthur Kleinman, Mamphela Ramphele e Pamela Reynolds. [↩]
- Nota da edição: Duplo vínculo, do inglês double bind, é um dilema da comunicação onde indivíduo (ou grupo) recebe duas ou mais mensagens conflitantes, onde uma nega a outra. Isso cria uma situação na qual uma resposta bem-sucedida a uma mensagem resulta em uma falha na resposta à outra (e vice-versa), de modo que a pessoa estará automaticamente errada, independentemente da resposta. O duplo vínculo ocorre quando a pessoa não consegue enfrentar o dilema inerente e, portanto, não pode resolvê-lo nem sair da situação. A teoria do duplo vínculo foi descrita pela primeira vez por Gregory Bateson e seus colegas, na década de 1950. https://pt.wikipedia.org/wiki/Duplo_v%C3%ADnculo | A alegoria do cavalo no hospital também pode ser utilizada como analogia ao double bind. [↩]
- Nota da edição: Entrevista realizada no ano de 2017. Na ocasião (além de outras situações) Evo conseguiu a liberação do Tribunal Constitucional para disputar a reeleição indefinidamente. A corte do país determinou em novembro de 2017 que o limite de dois mandatos presidenciais era “uma violação dos direitos humanos”. A oposição acusou o tribunal de passar por cima do resultado do referendo. [↩]
- El Tambo Colectivx Ch’ixi, ciudad de La Paz, Bolivia. [↩]